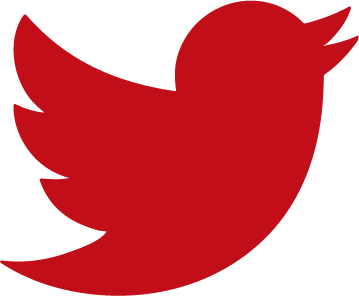As guerrilheiras, 1969
Monique Wittig
França
Por que a escolha?
Entre as consequências diretas da efervescência do Maio de 1968 francês, a consolidação de um pensamento feminista radical e lesbofeminista é uma das mais importantes e mais duradouras até agora. Desde meados do século 20, a segunda onda feminista, liderada por Simone de Beauvoir, foi um dos primeiros momentos em que as reivindicações das mulheres transcenderam com força os espaços de mobilização política e permearam as diversas expressões da cultura, tendo como principais baluartes a literatura, a linguística e a filosofia. A radicalização desse gesto, que entendia que a luta contra o logofalocentrismo – inclusive o da esquerda revolucionária – deveria ocorrer também no plano das representações, teve seus marcos fundadores em obras de escritoras como Hélène Cixous, Christiane Rochefort e, no que se refere ao feminismo lésbico e à teoria queer, a alsaciana Monique Wittig (1935-2003), autora do romance As guerrilheiras e figura capital dessas perspectivas críticas na Europa.
Exemplo paradigmático da vanguarda literária da década de 1960, o romance de Wittig percorre as fronteiras entre a narrativa e a prosa poética para dar forma a uma história épica e utópica fragmentada, na qual se imagina uma sociedade inteiramente nova, fruto de uma revolta militar liderada principalmente por mulheres. Depois da sublevação começa a verdadeira revolução: a da conquista dos signos. Sob a premissa de que a linguagem é fundamental para a concretização de qualquer realidade, o lema da guerrilha é rever o vocabulário de todas as línguas, examinar cuidadosamente cada palavra e apagar todos os vestígios de heteronormatividade e falocentrismo.
Amazonas bissexuais e poliândricas, as mulheres desta nova sociedade inventaram mitos, ritos, jogos e expressões para desmontar as diferenças nos signos que fazem com que elas se vejam e sejam vistas como seres inferiores aos homens, que quase nem aparecem nessa história.
Ficha técnica